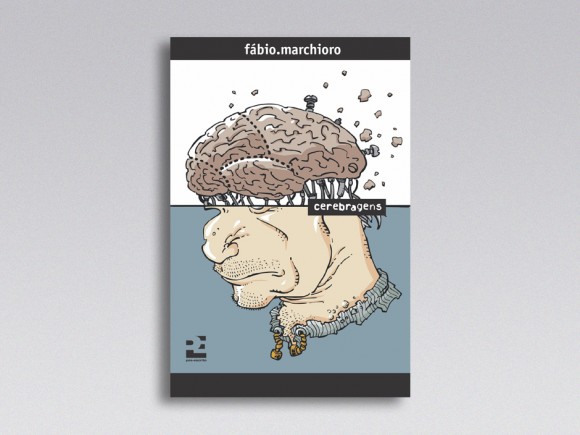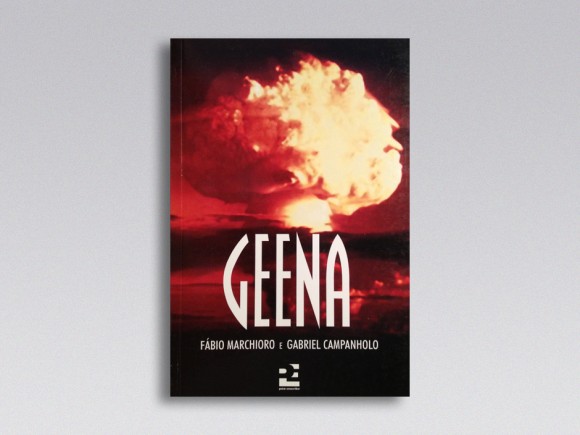Luciana Villas-Boas é uma das melhores cabeças do mercado editorial brasileiro. Ela sabe. E ponto.
LEIA OS OUTROS ENSAIOS NA EDIÇÃO DE OUTUBRO DE 2003 DA REVISTA BRAVO!
CLique no “leia mais” abaixo, para o ensaio que a revista Bravo publicou.
FONTE: Revista Bravo 73
Conceito e mercado
Nunca o livro foi tão divulgado como em 2003, mas nunca também as editoras sofreram tanto com a recessão
Por Luciana Villas-Boas
O ano de 2003 foi formidável para o livro no Brasil. Da criação de dezenas de editoras à consolidação de livrarias como pontos de encontro até o lançamento de prêmios como o Portugal Telecom, tudo de bom aconteceu. Fortaleceram-se feiras regionais, com a presença de autores nacionais e estrangeiros em Ribeirão Preto, Salvador e Recife. A febre dos cafés literários chegou aos shopping-centers. Na Bienal do Livro do Rio e no Festival de Paraty, escritores foram tratados como figuras do star-system nativo. O livro foi alçado a objeto de consumo “diferenciado”, que confere status e merece verba de marketing.
O ano de 2003 foi um desastre para a maioria das editoras, grandes ou pequenas. Aquelas contempladas pela sorte ou que de praxe tenham uma gestão financeira conservadora estão pisando miudinho para não estourar o fluxo de caixa. Algumas, entre as mais conhecidas e populares, já antecipam a publicação de balancetes negativos no início de 2004. Em 2002 acontecera uma dramática retração do mercado, segundo o relatório Produção e Vendas do Setor Editorial, divulgado pela Câmara Brasileira do Livro. Mas este ano as vendas caíram ainda mais vertiginosamente.
Como é possível? É possível e, como quase sempre, o paradoxo é aparente.
Nunca no Brasil sociedade, imprensa e mercado falaram tanto de literatura, mas essa visibilidade do livro e a nova valorização da atividade literária tem dez anos. Em 1992, assumi a chefia do caderno literário do Jornal do Brasil, onde trabalhei até 1995, e dessa posição assisti ao início desse processo. É impossível desvinculá-lo do trauma que foi o governo Collor.
Até o começo da década de 90, a sociedade brasileira parecia incapaz de avaliar as conseqüências culturais do tipo de desenvolvimento promovido pela ditadura entre 1964 e 1985. A escola, a universidade e o professorado aviltados em nome da massificação. A elite tradicional, deslocada pelos generais, se nem sempre aplaudindo, aceitando passiva a ascensão social de uma lumpemburguesia “pelos canais da política, da indústria cultural e da simples contravenção”, que abocanhou parcela considerável do poder. A ideologia da ganância e do consumismo, vitoriosa internacionalmente nos anos 80 e consagrada na figura do yuppie, encontrou um terreno tão fértil que a eleição à presidência de Fernando Collor, Rosane ao lado, passou como normal, foi “naturalizada”, diriam os antropólogos.
A ficha caiu quando a elite acordou de manhã e viu o rosto de PC Farias no espelho. Não bastassem os malufs, os inocêncios e os barbalhos, o Brasil tinha agora para projetá-lo uma quadrilha de malfeitores no Executivo. Não bastassem as desigualdades sociais e a violência, podíamos nos notabilizar pela ignorância, vulgaridade e grosseria.
Em seguida ao impeachment, mas antes ainda da eleição do presidente-sociólogo, surgiram os primeiros sinais de reação a esse quadro, com variados graus de consciência e projeto. Era impossível não ver a terra arrasada deixada por Collor no campo da cultura, mas no setor do livro os movimentos eram fragmentados, desarticulados. Começaram os eventos literários no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, espaço mais tarde reproduzido pelo BB em São Paulo e Brasília. Fortaleceram-se programas de rodas de leitura. Nas escolas particulares da elite, instalou-se a discussão sobre como desenvolver o hábito literário entre as crianças. O suplemento literário do JB, que vivia por um fio, consolidou-se e acabou provocando o surgimento do Prosa e Verso, no O Globo.
A dura convalescença cultural, o paciente até hoje não teve alta, coincidiu com o início da era Clinton e com “a grotesca economia das bolhas financeiras”, para usar a formulação de Robert Kurz. No caldeirão ideológico das empresas informatizadas que iriam virar o milênio, criava-se um novo tipo ideal de executivo, de trabalhador, de ser humano: aquele que faz uma misturada de lazer e trabalho e entrega ao patrão 24 horas diárias de alta produtividade. Isso significa que não basta trabalhar bem, é preciso projetar a imagem de permanente contentamento, sendo saudável, não-fumante, atlético, enólogo, artístico, sexualmente vigoroso e culto é para fazer negócios com eficiência na pista de esportes, no curso de vinho, no teatro, em almoços e jantares, na cama, se possível. Por isso, o novo executivo é o novo ser humano, pois nessa ideologia todo mundo é executivo de si mesmo, tem de ser leitor e não pode desconhecer o grande romance do ano.
Surgiram inúmeras revistas de cultura para esse público, com competente cobertura da área literária, entre as quais destaca-se BRAVO!, por sua beleza e brilho. Do alto de sua ignorância, o executivo, criado no obscurantismo dos anos de chumbo e no pós-ditadura dos 80, teve de recorrer à ajuda externa para educar os filhos: reinventou-se o “preceptor”, o professor particular de tudo, de ópera a filosofia. Na visão dos modernos é viva o “fetichismo da mercadoria”, até curiosidade intelectual pode ser comprada.
Tudo muito bom para os editores, já conformados com publicar para ínfima parcela da população, as grandes tiragens dos anos 70 reduzidas à média de 2,5 mil exemplares, os títulos sim diversificados, numerosos, porque a idéia era/é editar muita novidade para o mesmo executivo ou profissional liberal comprar. Pelo menos, a cultura deixava de ser atributo de uma intelectualidade esquerdinha e chata. A demanda de saberes do novo profissional era tanta que se podia publicar para ele adquirir num mesmo mês um livro sobre a globalização, outro sobre Veneza no século 19, mais um sobre vinhos, outro sobre como dar limite aos filhos, um volume sobre jazz e um bom romance para assunto em coquetéis, no Land Rover, não falta espaço para essa leitura toda. O livro permanecia um negócio pequeno, mas tornou-se “chique”, “divertido”, “criativo”, como manda a “filosofia do management”, ainda citando Kurz.
Mas essa lógica não funcionaria não fosse a criação do Real, projetado no governo Itamar, consagrado com FHC. Pelos tradicionais prazos de pagamento acordados entre editores e livreiros, a indústria editorial é particularmente castigada pela inflação. Porque é dolarizada “pelo papel e adiantamentos de direitos autorais”, sofre com a moeda fraca. A nova moeda causou um frenesi no setor, provocando lances audaciosos por parte de seus empresários, que passaram a disputar leilões milionários por direitos de tradução nas feiras internacionais (o que serviu para o agente literário anglo-saxão cobrar mais do editor brasileiro do que do português, cujo mercado é semelhante ao nosso, ou do russo, que tem uma massa de leitores de alguns milhões). Também no Brasil os adiantamentos aumentaram, alguns autores passaram a ganhar somas importantes com seus livros, as mudanças de escritores de uma editora para outra viraram matérias de destaque nos jornais.
Nesse contexto, em 1995, fui convidada a dirigir a Editora Record, poderosa detentora dos direitos de publicação de Jorge Amado e Graciliano, Eco e García Márquez, mas famosa também por seus best sellers americanos e livros de auto-ajuda. Nas décadas de 70 e 80, a Record apostara firme na massificação do mercado, investindo em uma impressora cuja maior vantagem era a rentabilidade nas grandes tiragens. Em 95, Sérgio Machado, seu presidente, estava mais interessado em modernizar o catálogo com novos autores, uma linha de não-ficção de alta qualidade e livros acadêmicos, de modo a exibir inequívoco compromisso cultural e valorizar sua marca, sem que se perdesse o olho para títulos com potencial para as listas de mais vendidos. Assim foi feito e até agora deu certo, embora a Record deva se notabilizar também pela tal gestão financeira conservadora.
O livro no Brasil, em suma, atravessou bem a década de 90. A desvalorização do real em 1999 doeu, mas a indústria editorial resistiu com galhardia até 2001. Dizia-se que o livro vicejava na crise, mas isso era a reprodução de um clichê que surgira no crash de 1929 nos Estados Unidos, quando a indústria editorial cresceu, porque não havia outro lazer doméstico senão o rádio e a leitura. Hoje há muito lazer mais barato que o livro e mais complacente, menos exigente de tempo e dedicação à TV, Internet, DVD. O que ficou claro é que o mercado editorial brasileiro não crescia nos momentos de boom econômico, mas tampouco se ressentia na recessão. O consumidor não sai a comprar um lançamento porque sobraram R$ 200, se já não for ele um leitor. E quem tem o hábito de ler não abandona imediatamente o livro quando o orçamento aperta. Principalmente, no Brasil já se publicava para uma elite tão reduzida que ela não era afetada na crise.
Em 1999 participei de debate com um colega do setor em que eu insistia na cantilena de ser muito baixo o teto para o crescimento da indústria editorial brasileira pela mera falta de boa escola para a maioria da população. Não só nossas tiragens médias são baixas como as de um país com a dimensão de Portugal, como são raríssimos os sucessos de mercado que ultrapassam a marca de 200 mil exemplares no ano. Nos Estados Unidos, várias editoras alcançam a marca de 1 milhão de exemplares com um único lançamento, e se em 2002 nenhum novo título americano vendeu esse número, isso foi considerado grave sintoma de crise. Recorrendo à imagem da Belândia, criada por Edmar Bacha como metáfora de Brasil, meu colega rebateu que, sim, publicávamos para a Bélgica, mas nessa Bélgica haveria espaço para a indústria se expandir, muito brasileiro para virar leitor.
Talvez esse cidadão do Brasil belga com potencial de leitor pudesse jamais ter sido perdido para o livro se as escolhas lá de trás, desde 1965, fossem outras, menos ancoradas no endividamento e no setor bancário, mais no investimento social e nas atividades produtivas. Isso é outra história, a imagem da Belândia nem seria adequada. Mas, segundo os números da indústria editorial em 2002 e 2003, aconteceu o impensável: a Bélgica conseguiu diminuir, virou um pequeno Portugal, e a Índia, um imenso Congo. Pela primeira vez desde 1990, a elite leitora brasileira sentiu o golpe da recessão.
O editor no Brasil é um empresário que tem compromisso com o Bem, porque seus interesses particulares coincidem com os interesses gerais da sociedade. Para ele, não basta juro baixo e crescimento. Somente com investimento social e uma rede escolar competente, bibliotecas e programas de leitura, que podem formar o cidadão brasileiro, aumentarão o número de leitores e o mercado do editor, com possibilidade de sua indústria dar um salto qualitativo. Agora é esperar. Nesta era virtual, nem chega a ser um paradoxo que em 2003 o livro “como conceito” vê bem, apesar de o editor e o leitor é o primeiro, quem o faz; o segundo, quem deveria consumi-lo à andarem mal das pernas.